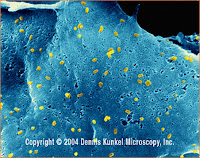Do canto em que me encontrava, pude admirá-la com
discrição. De vestido claro, cabelo curto e olhos verdes que coloriam o rosto
sem maquiagem, ela tomava uma xícara de chá no intervalo anterior ao segundo
ato d'O baile de máscaras, no primeiro andar da Ópera de Estocolmo, um salão
com paredes, teto e ornamentações reluzentes de ouro. Subitamente, o ar
pensativo se transfigurou num sorriso que iluminou a sala. Fiquei de tal forma
encantado por ela, que só percebi a quem a expressão de alegria se destinava
quando um rapaz loiro chegou perto o suficiente para beijá-la. De terno
cinza-escuro, camisa branca de gola rolê, corpo esguio e traços herdados dos
ancestrais vikings, ele estava à altura da beleza da moça; parecia um casal de
artistas de cinema.
Por Drauzio Varela
Depois do beijo,
conversaram animadamente durante todo o intervalo. Fiquei curioso a respeito
deles. Quanta diferença haveria entre nascer num lugar sem gente pobre como
Estocolmo e num bairro operário de São Paulo? Se eu tivesse recebido a mesma
educação e fosse tão bonito quanto aquele rapaz, minha vida teria sido mais
fácil? Mais feliz?
Sozinho, no
burburinho polido das pessoas bem-vestidas do salão de ouro, senti uma inveja
como as da infância, difícil de entender. Queria ter tido as mesmas
oportunidades e ser bonito como ele, mas sem deixar de ser quem sou, encarnar
meu espírito em seu corpo por um tempo, viver travestido na sua pele, naquele
país culto, organizado, sem miséria por perto, atraindo olhares admirados das
mulheres.
Terminada a ópera,
voltei debaixo de uma garoa fina para o pequeno apartamento de hóspedes que o
Instituto Karolinska me cedera, durante o estágio hospitalar a convite dos
velhos amigos Ulrich Ringborg e Sam Rotstein. Cheguei com as meias ensopadas e
com tanto frio que corri para tomar banho, projeto imediatamente frustrado pelo
mau humor do chuveiro, que se recusou a deixar cair sequer um pingo de
água quente. Agasalhei-me o quanto pude
e sentei junto ao aparelho de calefação, com saudades de estar em casa ao lado
de minha mulher.
Naquele estágio
passei por várias clínicas, nas quais acompanhava consultas ambulatoriais e
visitas à enfermaria. Um dos serviços visitados atendia pacientes portadores de
linfoma, tipo de câncer que geralmente se manifesta sob a forma de gânglios
aumentados no pescoço, axilas, virilhas, e nas regiões internas em que essas
estruturas estão concentradas. O chefe do grupo se chamava Bo Johanson, tinha
pouco mais de cinquenta anos e era tão míope que sem óculos não conseguia
enxergar a caneta em cima da mesa. Bo se distinguia não apenas pelo
conhecimento da especialidade, mas pelo hábito de fumar dois maços de cigarros
por dia, raridade entre médicos na Escandinávia.
Sua notória
dependência de nicotina era folclórica entre os colegas; contavam que uma vez,
depois de ter permanecido por quatro horas na sala de cirurgia, deu uma tragada
tão profunda que consumiu dois terços do cigarro.
Noutra ocasião, em
noite de insônia, já tendo percorrido a cidade a pé atrás de um bar aberto, tocou
a campainha na casa de um amigo fumante às duas da madrugada, liberdade
intolerável entre suecos. A esposa atendeu, à janela:
- O que o senhor
deseja a esta hora?
- Dois ou três
cigarros para um paciente meu que está passando muito mal.
Nossa rotina no
ambulatório era rever o prontuário do doente, antes de chamá-lo.
Religiosamente, a cada três atendimentos ele interrompia solene: “Time for a cigarette” e saíamos para o
jardim, numa temperatura abaixo de zero. Eu ainda tomava o cuidado de vestir o
capote, ele não. Discutíamos os casos vistos, enquanto a brasa do cigarro não encostava
no filtro, ou até meu queixo começar a bater e os lábios congelados a
embaralhar as palavras. Nessa hora, ele fazia alguma referência jocosa ao baixo
limiar de regulação térmica dos habitantes dos trópicos, e dava a última
tragada, com gosto. Apesar do rosto afogueado pelo vento e das mãos roxas, era
impressionante como conseguia resistir, fleumático, só com o avental por cima
da camisa.
Numa das manhãs,
atendemos a um dos primeiros refugiados políticos do Chile a chegar a
Estocolmo. Fiquei comovido com a situação do rapaz, com quem tive oportunidade
de conversar por alguns minutos, enquanto Bo saiu da sala para cuidar de um
doente internado. Era um engenheiro de trinta e dois anos que perdera a esposa
e o irmão mais velho, aprisionados no estádio de futebol de Santiago, nos
primeiros dias da ditadura Pinochet. Desesperado ao saber das mortes,
empreendeu com documentos falsos uma longa fuga para Mendoza, na Argentina,
onde se asilou na representação da Suécia. Dois meses depois de desembarcar em
Estocolmo, mal havia conseguido emprego na construção civil, notou a presença
de um tumor de crescimento rápido na axila direita. Como a previdência social
daquele país garante igualdade de direitos aos asilados políticos, estava sendo
acompanhado no Instituto Karolinska com as regalias de qualquer cidadão sueco.
Em relação aos
cuidados recebidos não tinha queixas: pelo contrário, reconhecia que não teria
acesso a tantos recursos e competência profissional em Santiago. Seus problemas
eram de ordem emocional:
- Estou doente,
sozinho, neste frio de Estocolmo, sem poder voltar para o meu país. De minha
família sobraram meus pais, já velhos, a quem poupei de mais este desgosto, e
alguns primos e tios com quem perdi contato há anos. Escapei da morte certa no
Chile, mas já nem sei se foi sorte. Será que não é mais triste morrer
solitário, numa enfermaria de um país estranho?
Dei a ele meu
telefone no hospital e me pus à disposição para o que julgasse necessário.
Insisti que não deixasse de me chamar em caso de dúvida ou mesmo para
conversarmos num fim de tarde. Quando virou as costas, senti a inutilidade do
oferecimento: em poucos dias eu não estaria mais lá! Graças a Deus tinha para
onde voltar, pensei sem querer, e esse pensamento me trouxe alívio.
Mais dois ou três
cigarros fumados por Bo em minha companhia congelada, e folheamos um prontuário
grosso como uma lista telefônica. Era um caso de linfoma de evolução lenta,
controlado por ele fazia oito anos com tratamentos conservadores que induziam
remissão completa dos sintomas e dos gânglios aumentados, sem muitos efeitos
colaterais, mas não curavam a enfermidade. As duas primeiras remissões duraram
dois anos, mas as subsequentes foram gradativamente mais curtas; a última delas
fora mantida por apenas dois meses. Desconfiado de que a doença dessa vez tinha
se transformado numa variedade mais grave, Bo tomara a precaução de pedir biópsia
de um dos gânglios cervicais. O resultado anexo ao prontuário confirmava as
piores suspeitas: o linfoma sofrera transformação num tipo de alta
agressividade.
Bo perguntou minha
opinião sobre o caso. Argumentei que o único tratamento com alguma chance de
levar à cura seria um transplante de medula óssea, procedimento novo na época,
porém só exequível se o paciente tivesse um irmão ou uma irmã para servir de
doador; sugestão de nenhuma valia, porque o rapaz era filho único. A
alternativa seria tentar novos esquemas de drogas que pelo menos pudessem controlar
a doença por algum tempo.
Quando a enfermeira
abriu a porta, custei a acreditar: o doente era o rapaz bonito da ópera! Como
naquela noite, usava camisa de gola alta para encobrir os gânglios saltados e a
cicatriz da biópsia.
Extraído do Livro de Drauzio Varella, “Por um Fío”